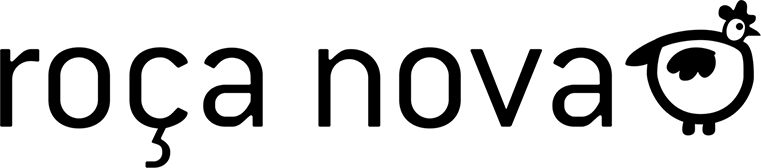A banalização do discurso sobre as mudanças climáticas globais e a alienação sobre questões ambientais cotidianas.
Mudanças climáticas globais é um tema abrangente que ganhou uma nova tonalidade nos últimos anos. Campo de estudo dos geólogos, geógrafos, oceanógrafos, meteorologistas e climatólogos, entre outros, as mudanças climáticas do planeta sempre estiveram presentes nas pesquisas sobre os paleoclimas, ou seja, os climas do passado, percebendo o ritmo das variações climáticas ao longo do tempo geológico. Diversos são os estudos sobre o tema, marcando as épocas glaciais e as épocas de maior calor na superfície terrestre. Tudo isso associado a processos astronômicos seja em relação à elíptica da Terra em torno do Sol, seja pela dinâmica das explosões solares. Essas ciências apontam, portanto, que sempre ocorreram mudanças climáticas no planeta e, aliás, muitas delas permitiram a expansão da vida. A tônica contemporânea associa as mudanças climáticas globais a um processo de aquecimento global provocado pelas atividades humanas, principalmente, após a revolução industrial e a queima de combustíveis fósseis. O benéfico efeito estufa do planeta, segundo as pesquisas conduzidas pelo Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC em sua sigla em inglês), está sendo sobrecarregado com gases que aumentam a retenção de calor na atmosfera (GEEs – Gases do Efeito Estufa) e, como consequência, produzindo aquecimento do planeta. Esse processo é super bem descrito pelos pesquisadores do tema que afirmam que, sobretudo após a revolução industrial e o aproveitamento dos combustíveis fósseis como matriz energética, a emissão dos GEEs foi a volumes nunca vistos na história do planeta (pelo menos nos últimos 420 mil anos, como mostram os testemunhos gasosos no gelo antártico de Vostok (HAMMES, 2011).
As discussões são controversas na ciência e as críticas têm diversas fontes, tanto pela afirmação do aquecimento global antropogênico quanto pela afirmação de outras variáveis. Vale ressaltar que estamos falando em ciência e não em negacionismo – visto como uma posição política conservadora que, a meu ver, merece atenção, mas não consideração. A divergência de posições dos cientistas é ótima para a ciência, e convergem para uma discussão sobre se o homem tem ou não papel no clima global, uma vez que o principal argumento de climatólogos é que o CO2 não é o regulador térmico do planeta e sim o vapor d’água.
No entanto, a despeito dessa discussão, o que se propõe aqui é chamar atenção sobre a banalização do tema das mudanças climáticas de causa antrópica, difundida como um axioma ou verdade absoluta e propagada para o senso comum em jornais e revistas. A meu ver, algumas dimensões devem ser discutidas nessa propagação irresponsável e banalizada do tema, sem um aprofundamento científico, permitindo que se associem discursos políticos e comerciais oportunistas. Com todo respeito aos jornalistas ou mesmo profissionais de outras formações, o tema não pode ser avaliado por uma percepção cotidiana, confundindo tempo meteorológico com clima. A articulação de escalas compromete a percepção de um ser humano que vive pouco mais de cem anos de existência, considerando uma vida longeva. Muitos processos climáticos têm recorrência de 10, 30 ou 50 anos, quiçá 100 anos, portanto, presenciado por um indivíduo por 10 ou 15 vezes. A confusão que se impõe relaciona tsunamis e terremotos com aquecimento global, por exemplo. As chuvas, enchentes e deslizamentos, então, ganham destaque nessa relação direta com o clima e aí reside uma questão importante sobre a banalização do discurso e a incorporação dele por políticos mal intencionados, que atribuem os desastres às mudanças climáticas globais e não a falta de planejamento urbano ou a falta de política de habitação nas cidades. Ocorre aí uma diluição dos responsáveis e uma indeterminação de sujeitos e, novamente, alimentado por um noticiário que, volta e meia, reforça o discurso. Respondi certa vez a um jornal, quando questionado se a cidade do Rio estava preparada para as chuvas de verão: “ o Rio de Janeiro não está preparado nem para os dias de sol”, pois, de fato, os problemas urbanos contidos no crescimento ordenado dessa cidade compromete a qualidade de vida até em dias de pleno sol, o que dirá para os dias em que as chuvas recorrentes na região tropical que habitamos se manifestam. A palavra “ordenado” foi usada propositalmente para qualificar o crescimento urbano, pois outra mania consensual é dizer que o crescimento das cidades é desordenado, ao mesmo tempo que o ordenamento territorial feito pelas prefeituras definem melhores terrenos para as classes mais abastadas, enquanto que uma parte da população trabalhadora é obrigada a autoconstruir sua habitação. Isso faz parte de uma “ordem” vinda da organização da própria dinâmica imobiliária que vende estilos de vida específicos. Nesse sentido o “desenvolvimento desigual e combinado”, citando Neil Smith (2011), ordena territorialmente as divisões espaciais da população: bairros de ricos e bairros de pobres, de acordo com o conforto do mercado imobiliário. Assim, condenamos, pelo menos no município do Rio de Janeiro, um terço da população a condições de moradias autoconstruídas, conhecidas como favelas. Vale ressaltar ainda que o risco de deslizamentos de encosta e enchentes não é privilégio só desta população, sendo, também, parte integrante de muitos bairros abastados na cidade. O que pretendo propor como reflexão é a diluição dos problemas ambientais vividos cotidianamente, como efeito secundário da justa preocupação climática. O problema reside no esvaziamento do tema que acaba reduzindo as questões ambientais a essa grande escala global difusa, acompanhada de uma iconografia típica de destruição, geleiras, animais, florestas, como se todas essas coisas estivessem dissociadas do nosso cotidiano e da nossa opção diária pelo modelo civilizatório vigente.
Um dos grandes dilemas da discussão sobre mudanças climáticas está associado à governança global, disputas geopolíticas e territoriais. A diferença entre países do anexo I e anexo II do Protocolo de Kyoto (1997) são muito complexas e despertam a clássica divisão internacional do trabalho, entre países fornecedores de matéria prima e a metrópole beneficiadora de produtos. Sem dúvida, a dimensão colonial aparece viva nos discursos dos organismos internacionais, sobretudo da ONU, com a promoção (em suaves prestações) do “desenvolvimento sustentável” a todos, mesmo aqueles nos cantos mais longínquos do planeta. Ou seja, ninguém escapa ao tal “desenvolvimento sustentável”, e aqui a preocupação maior é com a palavra desenvolvimento.
Talvez o aspecto relevante nessa discussão seja as relações desiguais de poder que se manifestam nesse jogo político, econômico e social. A noção de limites planetários se coloca como a maneira de lidar com a sustentabilidade, novamente afastando a discussão da luta cotidiana pela qualidade de vida. Tratam-se os fatos como se eles acontecessem distantes de nosso cotidiano. São listados 17 objetivos do desenvolvimento sustentável pela ONU e nenhum deles questiona o modelo civilizatório, partindo-se do princípio que temos todos que viver dentro do modelo capitalista urbano industrial moderno, sem perceber que é inerente a esse modelo a valorização diferenciada que o capital faz de porções do espaço, de acordo com o interesse econômico do momento. Os lugares se diferenciam entre mais capitalizados e menos capitalizados dependendo da forma com que participam do sistema, se dentro das centralidades ou nas periferias. Agrava-se o discurso com a justificativa de um estado de exceção, uma condição de emergência, que permite ajustes em direção a esse fatídico modelo, em nome da mitigação ambiental. Os discursos hegemônicos apresentados nem sequer arranham críticas ao modelo civilizatório atual. É preciso entender que a crise não é ambiental ou climática simplesmente, mas sim uma crise do modelo civilizatório que se propagou pelo mundo globalizado sob uma nova ordem mundial. É importante ouvir as vozes dissonantes como a de Noam Chomsky, no seu antigo livro “O lucro ou as pessoas” (2002) e no seu mais novo livro o “Crise climática e o Green New Deal, uma economia política para salvar o planeta”, junto com Robert Pollin, editado pela Roça Nova em 2020, ou mesmo os discursos de Pepe Mujica, Enrique Leff e Carlos Walter Porto Gonçalves, que discutem o “bem viver” no lugar do desenvolvimento sustentável, além de muitos outros autores.
Pelo curto espaço de exposição, vale a pena partir para a discussão que envolve o próprio conceito de ambiente e a visão etnocêntrica que nossa cultura ocidental moderna carrega. Em primeiro lugar, o termo “ambiente” já merece análise à medida que o entendemos como algo separado do homem e associado à natureza. Claro, isso está na raiz de nossa filosofia grega, que fundamenta essa separação e ressurge no iluminismo com o discurso do domínio da razão sobre as inconstâncias da natureza (inclusive as humanas). Um argumento que costumo usar é que o ambiente é uma construção social, produto humano, fruto da produção do espaço geográfico e da percepção humana. Mesmo a floresta amazônica (mais um desses ambientes objetificados como ícone) é resultado da coevolução de populações que habitam a região antes da floresta existir. As mudanças climáticas que marcaram a passagem para o Holoceno (época geológica atual) registraram o aquecimento global e o fim de um processo de glaciação. Ou seja, na época anterior, quando o gelo dominava o planeta, o clima era frio e seco, e o continente americano estava coberto em grande parte por formações savânicas (Cerrado), enquanto as formações florestais eram reduzidas à beira de rios e locais que retinham umidade (Ab’Saber, 1994). Este é o cenário da chegada de humanos na região amazônica, há 12 mil anos atrás, que expandiram sua população junto com a expansão das florestas, em função do aumento das temperaturas e da tropicalização do clima sulamericano. Portanto, até mesmo a floresta, erroneamente considerada natural, é território de populações há milhares de anos. A Amazônia, portanto, é território de populações tradicionais que carregaram saberes e modos de vida que não seguem o padrão previsto pelo desenvolvimento urbano-industrial proposto. A expansão das fronteiras do agronegócio sobre a floresta, associada à expulsão de povos tradicionais de suas terras em nome do desenvolvimento, traduz um pensamento colonial que entende que o modo de vida proposto é melhor do que o preexistente. Novamente nos confrontamos no noticiário com a indeterminação dos sujeitos que desmatam a Amazônia. O desmatamento fica também objetificado, sem a verificação de que está integrado a uma política de expansão do Agronegócio no Brasil. A expressão espacial, ou o ambiente que se constrói, é formada então por uma paisagem de extensas pastagens, queimadas e, por vezes, soja. Porém, dentro dessa paisagem estão relações sociais relativas à expulsão de ribeirinhos ou seringueiros e à proliferação de garimpos, madeireiros ilegais, êxodo rural, prostituição infantil nos pequenos núcleos urbanos, ou seja, uma completa desarticulação dos processos de reprodução social destas comunidades. Isso não aparece na discussão sobre a emissão de CO2 que o desmatamento promove, tampouco na propaganda do Agronegócio, que se auto revela quando diz, “agro é pop, agro é tudo”, justamente tudo isso junto. Essa escolha (e digo que é uma escolha, sim, feita há 500 anos atrás e ainda nos colocando na divisão internacional do trabalho, como “celeiro” do mundo) carrega em si todos esses efeitos danosos, mesmo antes de emitir o CO2 para a atmosfera. As incipientes políticas públicas de desenvolvimento florestal, ao longo de nossos governos, associada à imensa devoção ao agronegócio, nos levou à essa condição. Enquanto as florestas forem “empecilhos” ao “desenvolvimento” ou enquanto elas não tiverem valor em pé, como é para os povos da floresta, a lógica dos grupos hegemônicos vai prevalecer. Nada contra o boi ou a soja, mas tudo contra seus modos de produção aplicados no Brasil. A preocupação recai sobre o fato de se saber que a floresta é morada de milhões de pessoas que vivem e sobrevivem há muitos anos lá dentro. E nesse sentido, a questão ambiental, aqui, contém a disputa por territórios. Territórios esses que, para grande parte da população (já que sojistas e pecuaristas são minorias numéricas), é questão de sobrevivência, ou melhor, de existência, arraigada a sua própria identidade em uma amálgama indissociável.
Abrindo o flanco para os negacionistas e “passadores de boiada” a idealização platônica é outro fator fragilizante da luta ambiental. A visão idealizada se transfere para o conceito de natureza e consequentemente para o conceito de ambiente, tendo sua expressão máxima no início do movimento ambientalista com a premissa de que a melhor maneira de preservar os ambientes é os afastando do homem (Diegues, 1996). A expressão espacial dessa premissa são os parques naturais, onde as populações viventes devem ser expulsas de seus territórios. Corrobora para essa banalização o fato de muitas vezes a discussão ambiental recair em um discurso religioso nos grupos urbanos, associando a natureza ao sagrado, e o natural passa a ser visto como local de conexão, de religação. Não obstante, ao bem que se sente em meio a esses ambientes, a colocação aqui é para o sentido religioso novamente ocidental moderno, ou, no caso, judaico-cristão, que carrega em sua ética o mundo idealizado platônico (Nietzsche,1998). Longe de criticar o movimento ambientalista, particularmente aqui no Brasil, que atualmente está sob forte ameaça e regressão pelo desmonte das políticas atuais, ao contrário, a crítica aqui é sobre os caminhos dispersivos que esvaziam a discussão ambiental. Como dito, as idealizações diluem e esvaziam as questões emergenciais da própria existência humana.
A mesma raiz platônica está na ciência moderna. Dentre as epistemologias existentes, a abordagem sistêmica, vinda da ciência de base positivista e cartesiana, é outra fragilidade para a luta ambiental. Nascida no berço da modernidade, a Ecologia de Ernst Hackel, enraizou-se no movimento ambientalista a tal ponto que as sociedades e culturas humanas são vistas como metabólicas e parte integrante de um sistema lógico de matéria e energia. A defesa da Terra, como grande organismo, proferida pela hipótese Gaia de James Lovelock em 1979, independente da qualidade de seu trabalho, foi apropriada pelo discurso comum e caiu como uma luva para essa concepção de um sistema ideal. Nesse senso, o organismo ideal terrestre está sendo assediado por uma população de seres humanos em dissonância, desarmonia (e os adjetivos são esses, cujos antônimos refletem o platonismo da harmonia, da consonância ou conexão que idealmente os seres humanos deveriam ter). E aí reside outra concepção ideal, a de que os seres humanos fazem parte de um mesmo conjunto homogeneizante chamado de humanidade, reduzindo toda a complexidade e diversidade de sociedades e culturas humanas a uma dimensão biológica de espécie: homo sapiens. E se é assim, aliados a Darwin, todos têm o mesmo caminho evolutivo (de preferência em direção ao desenvolvimento sustentável de países capitalistas ricos). Gosto das afirmações de Ailton Krenak (2019) que, com a possibilidade de “olhar de fora”, afirma que esta humanidade que se fala não contempla ribeirinhos, caboclos, indígenas, mas sim os que estão no “main stream” da sociedade globalizada. Aqui ainda vale incluir nesse discurso toda a comunidade LGBTQIA+, pretos e pretas, mulheres, maricas, africanos, árabes, indianos, magrebinos, nordestinos, pobres e todos aqueles que de alguma forma estão passando como inadequados, à margem de uma sociedade minoritária, ao que me parece, feita de brancos heterossexuais europeus e norteamericanos.
Realmente nos vale rever as bases epistemológicas de nossa ciência moderna para uma abordagem da realidade complexa que se apresenta. A visão fragmentada em disciplinas não se resolve na junção elogiosa do discurso da interdisciplinaridade. Nesse caso, se entendemos o ambiente como uma construção social, ou produção espacial, temos que lançar mão de outras epistemes, que não as positivistas, para abordar as questões ambientais, as quais necessitam de abordagens sociais e socioespaciais. Para tal, os métodos dialéticos e dialógicos e a fenomenologia podem ajudar e, além desses, as epistemes de todas essas populações que “rexistem” em seus territórios e tem muito a nos ensinar como viver. Mas para isso é preciso descolonizar o pensamento e se assumir complexidade.
Que o aquecimento global seja pauta e que a luta ambiental seja profunda na crítica ao modelo social que normalizamos. Como disse Chico Mendes: “ecologia sem luta de classes é jardinagem”!
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AB’SABER, A.N. 1994 Redutos florestais, refúgios de fauna e refúgios de homens. Revista de Arqueologia, 8(2): 1-35, São Paulo.
Chomsky,N. O lucro ou as pessoas? Neoliberalismo e ordem global. (Trad. Jorgensen Jr, P.). Ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2002.
HAMMES, D.F. Análise e interpretação ambiental da química iônica de um testemunho do manto de gelo da Antártica ocidental. Dissertação (Mestrado). – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Geociências. Programa de Pós-Graduação em Geociências – Porto Alegre : IGEO/UFRGS, 2011. 106 pp.
KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. Rio de Janeiro, Companhia das Letras, 2019
NIETZSCHE, F.W. Genealogia da moral: uma polêmica. (Tradução Sousa, P.C.), São Paulo, Companhia das Letras, 1998
SMITH, N. Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Bertrand, 1988.
Marcelo Motta
Marcelo Motta é geógrafo, professor do Curso de Pós Graduação e de Graduação em Geografia e Meio Ambiente – PUC Rio, e atua pela EcoBrand em projetos de divulgação científica e consultoria em responsabilidade ambiental e social. Idealizador do Programa Sobre Rochas - Canais Globo. Curador do evento LivMundi. Autor nos livros Sobre Rochas, Povos do Mar, Amazônia Azul e Rios do Rio, da Editora Andrea Jakobsson Estúdio.