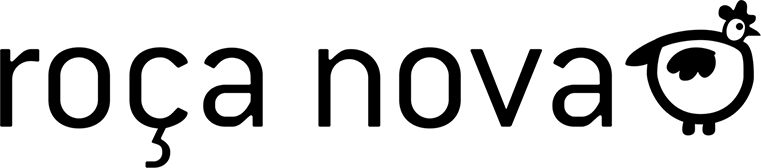Como uma mariposa atraída pela luz, novamente tento acercar-me da espontaneidade. Desta vez, compartilho com vocês uma história acontecida no tempo / espaço que tanto me marcou.
Durante dez anos, conduzi um grupo formado por doze jovens e adultos com déficits intelectuais provocados por diversas síndromes e privação social. Escutamos, criamos e contamos muitas histórias. Para se ter uma ideia, foram mais de duzentas apresentações entre esquetes e peças autorais. No início, construíamos um espetáculo a partir de pequenas cenas improvisadas. Éramos um grupo de heróis cujos poderes estavam adormecidos e que buscava um sentido. Até que, através de uma história, recebemos o chamado: nós nos engajamos numa missão capaz de salvar a humanidade de uma ferida muito antiga, como a busca de um antídoto contra a exclusão, o preconceito, o abandono.
O Nascimento
Na perfeição do Monte Olimpo, Hera, a vaidosa esposa do grande Zeus, está grávida. Todos os Deuses aguardam, com expectativas, a vinda dessa criança. Quando, enfim, ela nasce, revela a vergonhosa constatação: o filho tão esperado é coxo! Em sua fúria, com seu orgulho mortalmente ferido, a poderosa Deusa arremessa o pequeno ser para fora da morada dos deuses. Ele dá três voltas ao redor da Terra antes de cair no mar e desaparecer nas profundezas…
Este é o início do mito grego de Hefestos que nós iríamos dramatizar. Era uma manhã de maio do ano de 2008. Após contar-lhes essa história, entrei em cena jogando o papel de Zeus (quando necessário, reassumia a direção da cena). Anita, integrante da Trupe que mancava, entrou como Hera. De braços dados, caminhávamos pelo Olimpo falando de nossa perfeição, nosso amor e felicidade, enquanto os outros deuses, demais integrantes do grupo, admiravam o casal.
De repente, Hera entra em trabalho de parto e nasce o tão esperado rebento. Ênio, outro integrante que mancava, entra rapidamente em cena assumindo o lugar do filho. Zeus fica indignado com aquele rebento que, aparentemente, não refletia a sua idealizada perfeição:
– O que é isso! Como é possível, de onde veio essa criatura?
– Esse é o nosso filho! – responde, convicta, a atriz.
– Deve haver algum engano, olha para ele! Ele manca!
– E daí se ele manca, ele é nosso filho! – responde a atriz Anita.
Instalou-se um impasse. O personagem de Anita deveria desprezar o filho, mas a atriz se rebelou contra a história estabelecida e criou uma nova “Hera”: ao invés de concordar com Zeus e desprezar o filho, assumiu suas dores. O que fazer? Cortar a cena e retornar o papel original de Hera ou permitir esse motim. Era evidente que aquela dramatização tinha um significado muito mais interessante do que o frio mito: nesse mágico instante, personagem e atriz se misturavam numa atitude intensa que mobilizava todo o grupo. Por um segundo, passou pela mente do diretor a revolução criadora de um outro narrador de histórias:
A maior, mais longa, mais difícil e mais singular das guerras empreendidas pelo homem durante sua trajetória faz soar seu chamado. Não tem precedente nem paralelo na história do universo. Não é uma guerra contra a natureza nem uma guerra contra outros animais, nem de uma raça humana, estado ou nação contra qualquer outra raça, estado ou nação. Tampouco é uma guerra de uma classe social contra uma outra classe social. É uma guerra do homem contra fantasmas, os fantasmas a que, não sem razão, se chamou os maiores construtores de conforto e civilização. São eles a máquina, a conserva cultural, o robô (Moreno, 2003, p. 94).
A decisão estava tomada. O diretor desiste do texto, da conserva da história, e intensifica seu papel de resistência:
– Nosso filho, não! Esse menino é uma aberração! Vamos jogá-lo fora!
– De jeito nenhum!
*Os nomes dos integrantes da trupe foram trocados a fim de preservar a identidade dos mesmos.
Hera, como uma leoa defendendo sua cria, se coloca à frente do ator que fazia o papel do filho. Quanto mais ela era provocada, mais mantinha sua posição.
– De que vale ter um filho que manca?
– Vale muito! Eu amo meu filho!
– Você vai ter de escolher, ou eu ou ele!
– Ele! – diz ela com um olhar firme e determinado.
O grupo parecia hipnotizado pela cena. Estávamos diante de um ato criativo, uma quebra no nexo causal. Um ato repleto de espontaneidade, de uma sensação de surpresa e certa irrealidade. Um ato heróico de uma atriz que revelou para o grupo o sentido de sua existência: defender o direito de ser quem se é, mesmo sendo fora dos padrões estabelecidos. Não éramos mais apenas uma oficina, mas um grupo mobilizado por um propósito. A continuação da recriação do mito nos revelou um pouco mais sobre a natureza desse grupo, mas deixemos isso de lado para ouvir um depoimento do Francisco, outro integrante da trupe:
Porque a gente pode demonstrar para o povo o jeito que o mundo é. Não é do jeito que eles pensam que é. Eles acham que cada um de nós tem um problema. Eles acham que a gente não dá conta de demonstrar. Mas não é isso que a gente vê. Apesar das dificuldades, cada um tem a sua dificuldade, mas cada um mostra dentro de suas capacidades. (Francisco, 2008.)
Essa fala fortaleceu a identidade do grupo ao expressar o que nos pareceu uma elaboração da dramatização da nossa metáfora de “Hefestos”. Nessa fala, podemos percebemos o sentido e os objetivos do grupo: mostrar a capacidade daqueles aos quais a sociedade não dá o devido valor. Todos estavam integrados como elo fundamental para alcançar esse objetivo.
A Metáfora Relacional
Embora o grupo estivesse determinado em seu propósito, ele apresentava uma enorme dificuldade de expor ou dramatizar cenas significativas da própria história de vida de seus integrantes. Talvez a percepção da realidade fosse vivenciada de uma forma por demais opressora e, por isso, era difícil a espontaneidade de se manifestar. Substituímos o drama individual pela metáfora relacional. Apresentamos a realidade através de um espelho, que revelava e reverberava questões e sentidos nas pessoas no grupo e na sociedade.
Nos seis anos seguintes, criamos metáforas que procuravam dar voz ao que o grupo não conseguia expressar diretamente com palavras. É interessante observar que as metáforas criadas ao longo desses anos contam a história dessa jornada do grupo na construção de sua autonomia. Na metáfora de “Hefestos” (2008), o grupo encontra o sentido de estar junto. Na metáfora seguinte (2009), ele fala de suas capacidades ao desafiar os limites estabelecidos. Em 2010, cria uma metáfora sobre o afeto e a sexualidade, ao mesmo tempo em que diz ao mundo que os integrantes não são mais crianças. Em 2011, ano marcado por desastres ambientais, dizem da importância do meio para que as singularidades possam desenvolver suas potencialidades. Em 2012, o grupo se compromete com seus sonhos e os componentes se tornam responsáveis por eles. Em 2013, cria a peça “Sobreviver”, na qual assumem sua deficiência numa identidade muito mais ampla. Em 2014, questiona suas atitudes frente ao amor.
Vale destacar que, em cada um desses anos, a metáfora criada foi capaz de unir e mobilizar o grupo num processo muito mais amplo do que o de dramatizar uma história. Podemos dizer que a metáfora relacional é uma analogia que dialoga com a sociedade, com o grupo e com cada um de seus integrantes e que é apropriada pelo grupo como uma forma de simbolizar e expressar a realidade de seu momento. Ela se repete como uma “gestalt” aberta que procura desesperadamente se resolver. Quando ela se fecha, o grupo não mais se mobiliza para dramatizá-la.
A transformação
De repente, estávamos perdidos olhando para aquele grupo. Todos falavam ao mesmo tempo. Ninguém se escutava. Todos queriam atenção, e nossos esforços para organizar aquele caos não estavam surtindo efeito. Por questões institucionais, tivemos de abandonar nossa sala e ocupar um espaço provisório. A dispersão do grupo estava tão grande que levantamos a hipótese de que talvez fosse o momento de encerrá-lo. Assim começamos o ano de 2015.
As diversas metáforas que propusemos não foram capazes de unir o grupo. Ele já não precisava de uma metáfora para representa-lo, mas de um espaço para expressar sua singularidade. Precisávamos de uma resposta adequada à singularidade do momento.
Foi a partir da imagem de um colar que encontramos um caminho. A nova proposta de metáfora não focava mais o conteúdo, mas a estrutura: contas singulares como cenas individuais, unidas por um fio invisível, que poderia ser um objeto, um tema, um estilo. Gradativamente, a dispersão no grupo começou a ceder, e a coesão foi aumentando.
O grupo se encontrou, de fato, quando o objeto de ligação das cenas foi um microfone. No principio, cada um ocupava o seu lugar no palco falando o que quisesse. Depois criamos jogos: cada um entrava no palco e fazia uma pergunta ou dava uma opinião. Chegamos à provocação: qual o meu lugar no mundo? As respostas evoluíram. No inicio, eram mais concretas: meu lugar no mundo é minha casa, minha família, minha escola; depois, tornaram-se mais abstratas: meu lugar no mundo é o lugar dos meus sonhos; meu lugar no mundo é ao lado da pessoa que eu amo; meu lugar no mundo é o pensamento tranquilo, entre outras.
Nomeamos para o grupo: meu lugar no mundo é o lugar de onde eu falo, o lugar do meu talento. Com esse colar, recomeçamos as apresentações externas. A história apresentada voltou a ser uma “voz” para cada integrante do grupo. O grupo mudou de posição, voltou a sonhar, a demandar apresentações e viagens.
O integrante Francisco faz questão de ocupar o palco como ator e não como personagem. Ele entrou no palco como ator e, em sua fala, deixa clara sua transformação que, de certa forma, reflete também a do grupo. Na sua fala anterior, a sete anos atrás, ele colocava a necessidade de mostrar para o mundo o jeito que o mundo é, mas, agora, apenas afirma sua capacidade de sonhar e acreditar:
… Eu acredito no meu sonho e sou capaz de realizá-lo. Já estou realizando. Você precisa acreditar no seu sonho… Se você não acredita, quem irá acreditar? (Francisco 2015)
Essa metáfora marcou o limite da experiência da utilização das metáforas relacionais para traduzir a expressão do grupo. Talvez, para alguns, foi o encontro do precioso elixir. Se, no início da jornada, os atores precisavam dos personagens para se expressar, agora são capazes de serem eles mesmos no palco e dizer o que lhes encanta e o que lhes aflige. Se, no início da jornada, Francisco dizia da importância de mostrar para o mundo o jeito que o mundo é, termina dizendo-se capaz de realizar seus sonhos. Afirma que não precisa mais provar nada e que sabe que é capaz – uma sutil transformação que sinaliza uma verdadeira evolução na forma de se relacionar com o mundo.
Se alguém quiser saber mais desse trabalho, amo contar histórias. E atentem, a Roça Nova está cuidando de uma história que escrevi para as crianças. Que ela possa dar bons frutos!
Abraços,
Gustavo Gaivota
gustavogaivota@hotmail.com
REFERÊNCIAS
CAMPBELL, Joseph. O Poder do Mito. São Paulo: Editora Palas Athena, 1993.
MORENO, Jacob Levy. Psicodrama. 09 ed. São Paulo: Editora Pensamento Cultrix Ltda. 2003.
Gustavo Gaivota
Gustavo Gaivota é contador de histórias e autor de diversos livros, entre eles UM MENINO É QUANTOS BICHOS?, o primeiro livro da Coleção Infantil da Roça Nova!
Para conhecer mais sobre Gustavo e seu trabalho, visite seu canal no youtube UM MUNDO COM MAIS HISTÓRIAS.